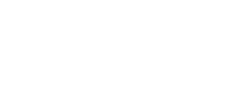
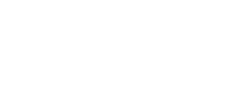
Herdeiras que somos da assim chamada cultura ocidental (que é, no fundo, a cultura branca europeia de matriz judaico-cristã, forjada essencialmente por homens), temos sido habituadas a acreditar que existem entidades bem delimitadas designadas como línguas, coisas quase concretas, ou mesmo seres com vida própria (ideia cristalizada em frases como “a língua é um organismo vivo” ou em conceitos como “língua morta”). Por isso é tão difícil convencer a maioria das pessoas de que essa noção de língua nada tem de “natural”, porque é um produto intrinsecamente sociocultural e sociopolítico.
Na mesma visão de mundo de matriz europeia, o nome das línguas é sempre a substantivação de um adjetivo vinculado a um território, que pode ser o de um Estado soberano, independente (português, alemão, russo, estoniano, húngaro...) — o que confere à língua um status privilegiado, oficial —, ou ao de uma região dentro de um desses Estados (mirandês, galego, bretão, napolitano, lusácio...) — o que deixa as pessoas que as falam sempre em desvantagem sociopolítica, caso não dominem também a língua oficial. Só me ocorre um caso europeu em que não há esse vínculo território-língua: é o do romanche, falado (por bem pouca gente) na Suíça (numa região chamada Grisões), nome que deriva do latim romanice, isto é, “[falar] à moda de Roma”. Do outro lado da fronteira, no norte da Itália, fala-se o ladino (termo derivado de latino), aparentada ao romanche. Curiosamente, o romanche é a única língua propriamente “suíça”, já que as outras oficializadas no país têm nomes “estrangeiros”: francês, alemão e italiano.
No entanto, do ponto de vista histórico, esse vínculo entre língua e Estado — que, por causa daquele hábito cultural impregnado, nos parece evidente e com uma origem perdida nas brumas do tempo — é um construto sociopolítico relativamente recente, mal tem quinhentos anos. Se recuarmos até o século 5 da Era Comum, chegamos à época do desmantelamento do Império Romano do Ocidente, com a penetração de ondas migratórias de populações vindas de fora dos limites do império (as chamadas “invasões bárbaras”, como se as “conquistas” feitas pelos romanos para a constituição de seu império não tivessem sido também invasões!). A unidade imperial foi substituída por diversos reinos menores, cujas classes dirigentes provinham daquelas populações: godos, suevos, alamânicos, vândalos, francos etc. Com o passar do tempo, essas classes dirigentes adotaram a variedade de latim falada em suas terras, assim como adotaram o cristianismo. Onde o latim nunca tinha sido imposto, as populações dos reinos que se formaram mantiveram suas línguas próprias (caso da Alemanha, da Grã-Bretanha, da Hungria etc.), mas, por também terem adotado o cristianismo, o latim, língua oficial da igreja, se tornou ali a língua de cultura da elite, da justiça e do governo, tanto quanto nas antigas terras imperiais. E assim se passaram mil anos, um longo período que recebe o nome de Idade Média.
Na primeira fase da Idade Média, os reis atuavam como “administradores” de terras, os feudos, bem mais do que como governantes detentores de todo o poder — ao contrário, alguns senhores feudais eram mesmo mais ricos e poderosos que os reis. Naquele período, nem passava pela cabeça das pessoas a ideia de dar nomes a seus modos de falar. Somente o latim recebia o título de língua, e seu conhecimento estava restrito aos homens da igreja e a um punhado de letrados, numa época em que havia até reis analfabetos. As pessoas comuns, especialmente nas áreas onde o latim vinha passando por mudanças graduais, reconheciam uma origem compartilhada em seus modos de falar e praticavam espontaneamente o que chamamos de intercompreensão, ou seja, não viam (nem criavam) dificuldades em se fazer compreender e em compreender as outras, já que não existia o obstáculo simbólico das fronteiras estatais nem, muito menos, das línguas institucionalizadas. As variedades românicas constituíam um continuum dialetal, em que não se podia definir com precisão onde uma terminava e começava outra. Além disso, como a mobilidade da maioria era muito reduzida, as comunicações orais se faziam bem mais entre terras e aldeias próximas, cujas falas eram bastante semelhantes. Em contraposição ao latim, única língua digna do nome, essa pluralidade de falas recebeu mais adiante o nome genérico de romances (o que comprova a consciência que se tinha de serem continuações do latim) ou vulgares (isto é, “do povo”). Em Portugal, a língua da população era chamada linguagem ou nossa linguagem. A variação era considerada absolutamente normal, ao contrário de hoje, em que a variação é vista como “erro”, e a norma (artificialmente estabelecida), vista como a única forma “certa” de uso da língua.
O tempo foi passando e a situação política, econômica, social da Europa foi se transformando até começar a chamada Era Moderna. Foi sobretudo a partir do século 15, com a decadência do sistema feudal e o início do mercantilismo, que começou a se fortalecer o vínculo entre língua e território, território unificado e centralizado em torno da figura do rei (ou, em alguns poucos casos, da rainha), agora, sim, detentor do poder político. A tomada de Constantinopla pelos turcos (1453) e o consequente bloqueio das rotas que permitiam as trocas comerciais entre a Europa e o Oriente simbolizam o início da chamada era dos “descobrimentos” (mais um eufemismo para designar invasões, pilhagens, escravização e genocídios), quando Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, a pretexto de encontrar o chamado “caminho para as Índias”, acabaram se apoderando de imensas extensões de terras mundo afora, iniciando o longuíssimo período colonial moderno — a primeira “conquista” de Portugal foi a cidade de Ceuta, no atual Marrocos, em 1415, enquanto a independência das colônias africanas e de Timor se deu em 1975, ou seja, 560 anos entre uma data e outra, com o “achamento” e a independência do Brasil de entremeio.
A empreitada colonialista, que exigia um poder central forte capaz de financiá-la, foi de certa maneira contemporânea da reflexão sobre as línguas faladas naqueles reinos e da produção das primeiras gramáticas (processo facilitado também pela invenção da imprensa na mesma época). A ocupação de amplos territórios na África, na Ásia e na América exigiu a submissão (literalmente a ferro e fogo) de incontáveis povos ao domínio daquelas metrópoles, submissão que poderia ser facilitada se todas aquelas populações “abraçassem” o cristianismo e “adotassem” a língua do colonizador. Essa língua não podia ser o latim, que àquela altura nem mesmo a oligarquia política e econômica dominava: tinha de ser a “língua do rei” — e se o rei é “rei de Portugal”, rei português, a língua também tinha de ser portuguesa. Durante séculos, o que hoje chamamos português recebeu, como se viu acima, o rótulo de linguagem ou nossa linguagem, ou seja, desvinculado do nome do território (seu nome mais remoto foi de fato galego, mas essa história fica para outro dia). A primeira ocorrência escrita de português para designar a língua se dá por volta de 1433-1438, numa tradução feita pelo príncipe D. Pedro (1392-1449) de uma obra do orador romano Cícero. A essa altura, Portugal já tinha feito suas primeiras “descobertas” e “conquistas”, e ter um nome próprio para a língua veio muito bem a calhar. Assim, quase cem anos depois, em 1536, o primeiro gramático português, Fernão de Oliveira (1507-1580/1581), escreveu: “Tornemos sobre nós agora que é tempo e somos senhores, porque melhor é que ensinemos a Guiné que sejamos ensinados de Roma”, ou seja, vamos abandonar o latim e usar a nossa língua para “ensinar a Guiné” (leia-se, dominar a África), porque é uma língua já tão nobre e rica quanto a de Roma. Pouco depois, em 1540, outro gramático, João de Barros (1496-1570), também enfatizou a necessidade de abandonar o latim:
Certo é que não há glória que se possa comparar a quando os meninos Etíopes, Persianos, Indos d’aquém e d’além do Ganges, em suas próprias terras, na força de seus templos e pagodes, onde nunca se ouviu o nome romano, por esta nossa arte aprenderem a nossa linguagem, com que possam ser doutrinados nos preceitos da nossa fé, que nela vão escritos.
Língua, religião e o fio da espada: a santíssima trindade da colonização. Talvez melhor seja a conjunção ou: língua, religião ou o fio da espada. Mas já em 1492 o gramático espanhol Antonio de Nebrija (1441-1552) declarava: “Sempre foi a língua companheira do império”.
Essa é a origem do que podemos chamar de esquizofrenia linguística experimentada por bilhões de pessoas que, vivendo em países surgidos do processo colonial, aplicam à língua que falam (e/ou à língua oficial) um nome que não corresponde ao de seu país. Se, na Europa, o vínculo entre língua e Estado é nítido e cristalino, do lado de cá falamos línguas com nomes desterritorializados: português, espanhol, inglês, francês, holandês (ou neerlandês). Não seria o caso de perguntar por que, na Europa, o nome da língua é o mesmo do território, enquanto aqui não é?
Não há nada de óbvio e inequívoco na aplicação do nome português à língua majoritária da população brasileira — o que é óbvio e inequívoco é nossa dependência linguística, ainda que simbólica (e os nomes são símbolos poderosos), mesmo duzentos anos depois da independência política (por mais esquisita e ambígua que ela tenha sido). Nós, mais de 200 milhões, temos de continuar a escrever coser e cozer de forma diferente porque numa pequena região do norte de Portugal ainda tem pessoas (poucas) que pronunciam de forma diferente o -s- e o -z- dessas palavras, como na Idade Média. As populações falantes de espanhol das Américas têm de continuar a escrever casa e caza porque na Espanha o -s- e o -z- dessas palavras têm pronúncias diferentes. E não adianta argumentar que na América são 500 milhões de pessoas contra 47 milhões na Espanha (das quais nem todas fazem essa diferença na pronúncia!). É claro que nenhuma ortografia dá conta de todos os usos variantes de uma língua, mas, no caso do português e do espanhol, veja você, ela só dá conta das formas variantes… europeias. É o poder simbólico dos nomes: se espanhol remete a Espanha, e português, a Portugal, então o que se fala nesses países deve ter alguma espécie de primazia sobre o resto (que de resto não tem nada). Se a Real Academia Española falou, tá falado.
Por fim, é bom lembrar que a própria ideia do que seja uma língua também é um construto cultural ocidental. A maioria das populações mundo afora não têm um nome específico para sua língua e designam seus modos de falar simplesmente como “a fala da gente”, “do povo”, “dos homens”, “comum” etc. O nome bantu, por exemplo, é o plural de ntu, “homem”. O termo maori, usado para designar a língua da população autóctone da Nova Zelândia, significa “natural, normal, usual”. Os tupis e guaranis chamavam seu idioma de abanheenga, “fala de homem”, ou nheengatu, “fala bonita”. Por que é então que falamos de uma língua tupi e de uma língua guarani? Porque esses são nomes resultantes do processo colonial: os europeus, em inúmeros casos, deram às línguas o nome da etnia. Muitas vezes, deram às línguas nomes que outras etnias usavam para se referir a um dado povo: são os chamados exônimos. Para citar apenas quatro exemplos de línguas da América do Norte (Estados Unidos e Canadá), veja-se o nome que a própria comunidade dá a sua língua e, entre parênteses, o nome com que passou a ser conhecida por obra dos colonizadores de língua inglesa: unangam tunuu (aleut); anicinàbemowin (algonquin); cham’teela (luiseño); luhchi yoroni (tunica). Pense-se também no nome cinta-larga atribuído a um povo e a um grupo de línguas do Brasil, chamadas por seus falantes de kakim, kaban e maan.
Os nomes das línguas, como é fácil ver, são construtos ideológicos, produzidos ao longo de séculos de história política, econômica, religiosa, cultural, colonial.
(PS: Para quem quiser ir mais fundo nessa história, posso sugerir que leia “O que é uma língua?”, capítulo do meu livro Objeto língua [Parábola, 2019]. Outra dica, ainda melhor, é o livro A história das línguas, de Tore Janson [Parábola, 2015].)
 Tweets by @271933053
Tweets by @271933053
