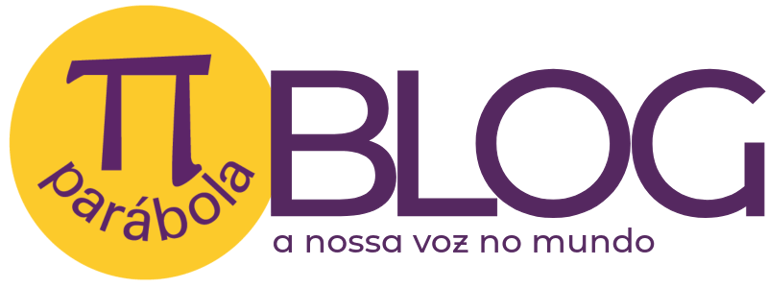Variação Linguística em Português: Umbigo, Embigo ou Imbigo?
Partindo de exemplos cotidianos como imbigo, iorgute, célebro e tauba, Bagno questiona a noção de “erro” na língua e mostra que variantes consideradas incorretas possuem explicações históricas, fonéticas e cognitivas.
LINGUÍSTICA
Marcos Bagno
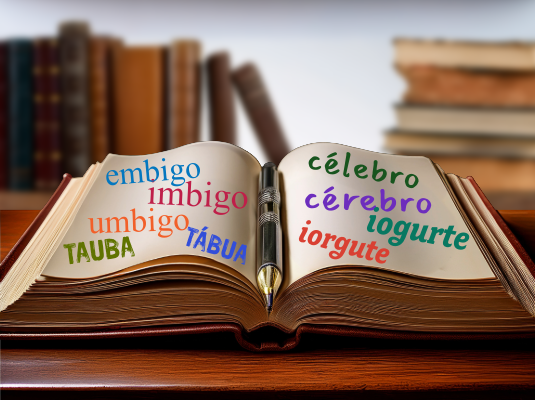
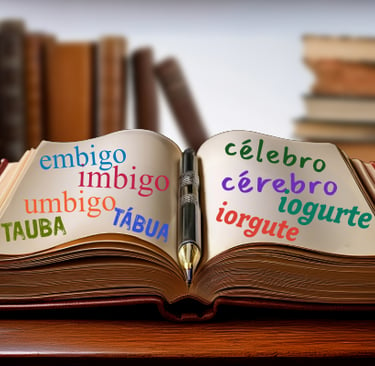
Recentemente comprei uma camiseta divertida produzida por uma loja que vende “camisas para quem gosta de falar errado”. Nela vêm estampadas as palavras imbigo, iorgute, célebro e tauba. O slogan da loja se vale da noção de senso comum de que existem erros e acertos no uso da língua, e nisso está precisamente seu apelo comercial. As pessoas mais letradas aplicam a noção de “erro” (ou mesmo de “erro comum”) a variantes linguísticas encontradas na fala de milhões de pessoas de norte a sul e de leste a oeste. Nunca lhes ocorre perguntar (e nem teriam por que fazer isso) qual a razão de ser de tais “erros”. Uma das acepções do verbo errar – a mesma que existia em latim – é a de “andar sem rumo certo”. Por extensão de sentido, a ideia de sair por aí sem destino, sem rumo certo, passou a implicar a de topar com o que não se esperava, de se equivocar pelo caminho, donde a noção de erro como “engano, incorreção”.
Se partirmos da noção primitiva de vagar, perambular etc., podemos questionar a ideia de erro no uso da língua. Se tantas pessoas “erram” ao mesmo tempo num mesmo uso da língua, isso não deve ter nada de casual, fortuito ou aleatório. Se é “comum”, como pode ser “erro”? Todas as pessoas combinaram de “errar” juntas as mesmas pronúncias?
Como venho repetindo há muito tempo (e é até o título de um dos meus livros), nada na língua é por acaso: nada na língua resulta de uma perambulação sem destino, muito pelo contrário. A linguagem está profundamente entranhada na nossa cognição, e a cognição humana, decorrente de um cérebro que é considerado pelos cientistas como a coisa mais complexa do universo, não permite que nossos usos da língua sigam por caminhos incertos, vagos, ou seja, não permite que... erremos. Daí ser preciso reconhecer que tudo o que se chama de “erro” tem uma razão de ser, razão que pode ser cognitiva e/ou articulatória (decorrente dos usos que fazemos do aparelho fonador: língua, palato, glote, pulmões, nariz, pregas vocais etc.). É precisamente no plano da articulação, da produção dos sons da língua, que se inserem as formas imbigo, iorgute, célebro e tauba.
A área de conhecimento que hoje chamamos de linguística se firmou como uma disciplina autônoma, com suas próprias teorias e métodos, ao longo do século 19. Na historiografia da linguística é a partir daí que nosso campo de estudo passou a ser considerado uma ciência. A maioria dos linguistas do século 19 (predominantemente alemães) se deram como tarefa estabelecer os vínculos entre uma hipotética língua falada entre 4.000 e 5.000 anos antes da nossa era e centenas de línguas modernas, que seriam suas descendentes. Essa língua (ou mais precisamente, essa protolíngua) recebeu o nome de indo-europeu (ou proto-indo-europeu) porque suas descendentes são faladas desde Portugal, no extremo ocidental da Europa, até a Índia, passando pelo Oriente Médio e pelo que hoje são o Irã, o Afeganistão e o Paquistão. No início do século 20 foram encontrados documentos escritos numa língua indo-europeia numa área remota do sudoeste da China, língua que recebeu o nome de tocariano, mas isso não alterou a designação indo-europeu, já bem firmada no último século.
Os linguistas novecentistas elaboraram o chamado método histórico-comparativo, por meio do qual desejavam realizar uma proeza quase mirabolante: reconstruir a protolíngua pré-histórica. Para tanto, se dedicaram à comparação entre as línguas modernas (e antigas também, como o grego e o latim) a fim de detectar regularidades responsáveis pelas mudanças ocorridas desde a pré-história até tempos mais recentes. Um exemplo bem simples é o da comparação entre palavras latinas que têm um s- inicial e suas correspondentes gregas que apresentam um h- inicial, isto é, uma aspiração (como o h do inglês hot, por exemplo):
LATIM GREGO
serpentis herpeton (‘serpente’)
sex hex (‘seis’)
septem hepta (‘sete’)
sus hys (‘porco’)
super hyper (‘sobre’, preposição)
sub hypo (‘sob’, preposição)
É fácil deduzir que a um s- inicial latino corresponde um h- inicial grego. A diferença aparente se esclarece pela comparação. Esse é um exemplo mínimo e muito simples do que os linguistas passaram a chamar de “leis fonéticas”. Uma dessas leis é precisamente a que afirma que “a um s- inicial latino corresponde um h- inicial grego”. A comparação do latim e do grego com outras línguas da família mostrou que foi o grego que inovou, porque em todas as outras o s- inicial se manteve, o que leva à conclusão de que na protolíngua o que havia nessas palavras era também um s-. O uso do termo “lei” acabou sendo muito criticado, de modo que hoje preferimos falar de regularidades de mudança fonética.
Um dos campos específicos da linguística histórica do século 19 é a romanística, o estudo das línguas românicas, isto é, derivadas do latim. Estabelecer as “leis fonéticas” neste caso era mamão com açúcar, já que a “língua-mãe” estava documentada num imenso acervo acumulado ao longo de séculos a fio, ou seja, não era preciso reconstruir praticamente nada: bastava partir do termo latino primitivo e ver como se transformou nas diferentes línguas descendentes. Outro exemplo simples:
LATIM PORTUGUÊS
clave- chave
clamare chamar
flagrare cheirar
flamma- chama
pluvia- chuva
plumbu- chumbo
Constatamos que os grupos iniciais latinos cl-, fl- e pl- se transformaram em ch- na língua que viria a ser chamada (só lá pelo século 15) de português.
Para classificar as regularidades das mudanças fonéticas, os linguistas criaram toda uma terminologia própria. Esses processos de mudança se chamam metaplasmos e sua lista é bem fornida, de modo que não vamos apresentar todos aqui. O importante é ressaltar que mudanças ocorridas no passado continuam a ocorrer no presente: qualquer língua viva está em constante processo de mudança, de transformação. O modo superficial como a história da língua é contada leva erroneamente a imaginar que houve, sim, mudança na transformação do latim em português, mas que hoje a língua está pronta e acabada, com sua forma bonita e correta descrita nas gramáticas e nos dicionários e assim permanecerá para todo o sempre amém. Mas isso é uma ilusão porque, repetindo, enquanto uma língua tiver falantes ativos, esses mesmos falantes vão introduzir mudanças com o passar do tempo.
Se as mudanças ocorridas no passado ainda ocorrem no presente, podemos classificar cientificamente os “erros” que aparecem hoje na fala das pessoas menos letradas (e às vezes também na das mais letradas)? Podemos, sim, e é onde entram imbigo, iorgute, célebro e tauba.
Comecemos por imbigo. O latim umbilicu- resultou inicialmente em embigo. As vogais [u] e [i] são as mais fechadas da língua, de modo que para distinguir uma da outra surgiu a forma embigo, resultante de um processo chamado dissimulação. A forma embigo está registrada desde o século 13, enquanto umbigo, mais próxima do latim, só aparece no século 16, decerto por via erudita. A passagem de embigo a imbigo é fácil de explicar. Na fala espontânea, o grupo inicial escrito em-/en- se pronuncia normalmente [ĩ], ou seja, um i nasal. Perceba como você mesma sem dúvida pronuncia (in)contrar, (in)tender, (in)tupir, (im)baraçar, (in)dereço etc. Ocorre na fala uma coincidência de pronúncia entre o que se escreve em-/en- e o que se escreve im-/in- e é fácil ver esse processo na escrita das crianças em processo de alfabetização ou de pessoas adultas menos letradas. No caso de embigo > imbigo pode ter ocorrido também a influência da vogal tônica [i] sobre o [e], um caso de harmonização vocálica. Curiosamente, a forma imbigo desfaz a dissimulação inicial, já que as duas vogais acabaram ficando iguais.
Vejamos agora o caso de iorgute, forma variante de iogurte. Temos aqui um exemplo de metátese, que é a troca de lugar de um segmento sonoro no interior da palavra. O mesmo se passa com lagarto > largato, vidro > vrido e com prateleira > parteleira. Ora, são muitas as palavras do português que resultam de metáteses históricas. O verbo latino crepo está na origem de quebro (de quebrar), em que o [r] do grupo inicial latino se transferiu para a segunda sílaba, -bro (o que levou à necessidade de usar o dígrafo qu-). O pássaro que os latinos chamavam merulus se chama melro em português: primeiro ocorreu a queda da sílaba tônica medial (ou seja, uma síncope), que resultou em merlu-; em seguida, por metátese, o r e o l trocaram de lugar: melro. Do espanhol guirnalda temos em português grinalda e guirlanda, uma festa de metáteses. Enquanto o francês tem Algérie, o espanhol, o italiano e o inglês têm Algeria, temos em português Argélia. O latim tenebra se tornou primeiro teevra e depois treva. O verbo capio nos deu caibo (de caber), com metátese do i, e de semper temos sempre. É a metátese que explica também estrupar por estuprar, e depedrar por depredar. Na fala das crianças é muito comum ouvir mánica por máquina. Nosso corretíssimo verbo perguntar resulta de uma metátese, porque no passado da língua só existia preguntar, que é a forma do espanhol e também de muitas variedades populares do português brasileiro. E já podemos adiantar que o caso de tábua > tauba deriva do mesmo processo.
Por fim, o caso de célebro por cérebro é outra forma de dissimilação, fenômeno que vimos acima com umbilicu- > embigo. O termo dissimilação significa tornar dissimilar, diferente. É muito comum que, havendo dois sons iguais na mesma palavra, um deles se modifique pela necessidade de conferir maior clareza à palavra por meio do contraste. O [r] e o [l] são clientes habituais da dissimilação. Do latim liliu- temos lírio; do francês colonel temos coronel; do latim calamellu- temos caramelo. Dissimilação radical é a que fez o urubu se tornar aribu: afinal, três u numa palavra só ninguém merece...
Por falar em [r] e [l], é muito comum (e em diversas línguas) que o [l] se transforme em [r] em encontros consonantais: é o que se chama rotacização, do nome da letra r em grego (rhota). Na história da língua os exemplos pipocam: plicare > pregar; complere > cumprir; flaccu- > fraco; plaga > praga; placere > prazer; blandu- > brando; obligare > obrigar e por aí vai... Essa rotacização é muito comum na fala de pessoas menos letradas: grobo, praca, Cráudia etc. Muita gente ri e zomba dessas pronúncias, mas, por desconhecer a história da língua, acha certíssimo dizer praia, pregar, obrigar etc. Na obra de Camões encontramos ingrês, frauta, pranta, pubricar...
Outra forma assumida pela dissimilação é a eliminação pura e simples de uma das consoantes idênticas. O melhor exemplo é própio em lugar de próprio. Ora, em espanhol a única forma correta é propio e o mesmo se dá com orquesta. Em italiano, o uso de propio também é alvo de zombaria, o que comprova seu uso frequente. Os portugueses dizem registo enquanto nós dizemos registro, e o latim rostru- se tornou rosto entre nós, enquanto rastro e rasto são formas igualmente tidas por corretas.
Além dos metaplasmos mencionados acima, existem, como mencionei, muitos outros: aférese, apócope, síncope, prótese, epêntese, paragoge, assimilação, palatalização, vocalização, consonantização, sândi, suarabácti, lambdacismo, metafonia, apofonia, hiperbibasmo...
Voltando ao que eu dizia no início: todo e qualquer fato linguístico tem explicação científica. Aqui vimos apenas casos relativos à fonética, ou seja, aos sons da língua, mas isso se aplica também à morfologia e à sintaxe, isto é, à gramática da língua.
É claro que as formas consideradas cultas e corretas devem ser ensinadas sistematicamente às pessoas que usam as variantes não normatizadas, uma vez que estas são alvo de preconceito e discriminação. O acesso às formas prestigiadas é um direito de todo mundo, mas esse ensino deve se fazer com bom conhecimento da história da língua e com respeito à diversidade de usos, já que o que foi errado ontem é certo hoje, assim como o erro de hoje pode se tornar (e de fato se torna) o certo de amanhã.