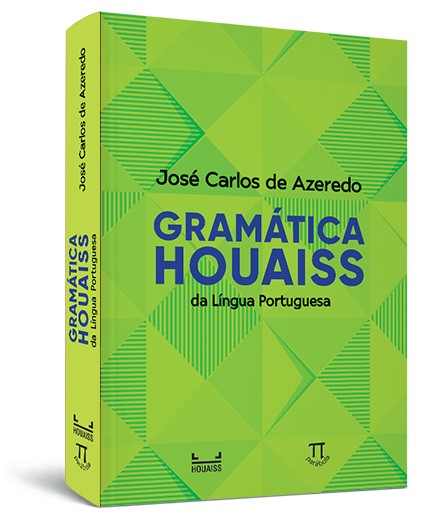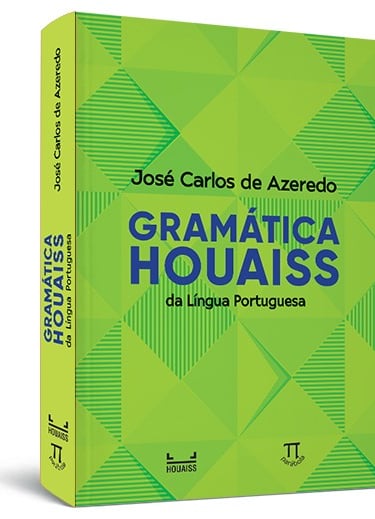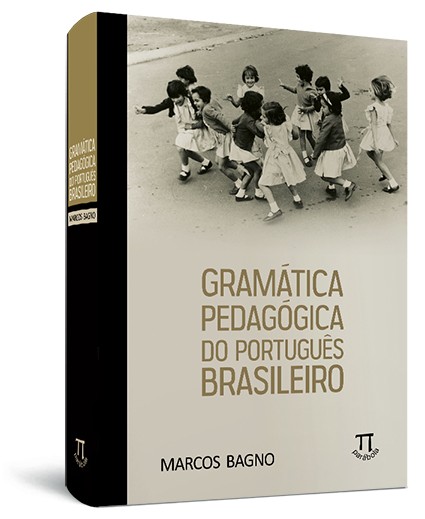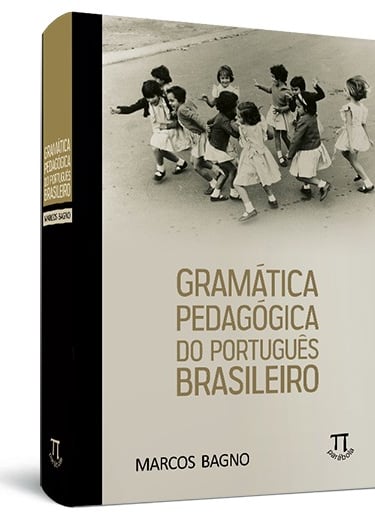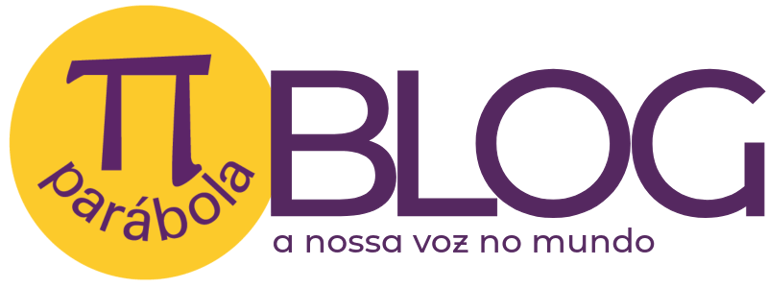Por onde anda o LHE?
Uma análise clara e provocativa sobre como o português brasileiro se distancia da norma-padrão no uso de pronomes e regências, mostrando a diferença entre fala espontânea e gramática escolar e defendendo a importância da educação linguística.
PORTUGUÊS BRASILEIRO
Marcos Bagno


Poucos dias atrás ouvi um rapaz dizer num vídeo: “As pessoas não devem tomar partido numa guerra que não as pertence”. E na fala de um jornalista: “Eles têm que enfrentar as decisões que a justiça os reserva”.
Já sabemos há uns bons cinquenta anos que os pronomes oblíquos o(s)/a(s) não pertencem à nossa língua materna, isto é, aquela que adquirimos em nossas primeiras interações dentro da família, nuclear ou expandida. É em tudo improvável que alguém aprenda a usar o(s)/a(s) com a mãe, o pai, a tia e o tio etc. Nem nas famílias mais letradas, nem nas famílias menos letradas. Converse uma hora e meia com uma criança de sete anos ou com uma pessoa analfabeta: a probabilidade de ocorrência de o(s)/a(s) é nula. Esse é o teste para verificar o que faz parte ou não da língua materna de uma pessoa, de seu grupo social ou, no nosso caso, de uma população inteira.
O uso de o(s)/a(s) depende do aprendizado consciente desses pronomes no processo de escolarização, ou seja, o uso de o/a não é adquirido, é aprendido – uma distinção fundamental na linguística aplicada: adquire-se a língua materna, aprende-se uma ou mais línguas estrangeiras. As regras de uso de o(s)/a(s) têm que ser ensinadas quase como se ensina a conjugação do verbo to be do inglês. Falantes de português europeu, espanhol, francês, italiano etc. adquirem o uso dos pronomes oblíquos equivalentes aos nossos o(s)/a(s) nas primeiríssimas interações com a família porque tais pronomes pululam na atividade linguística de todas as pessoas que falam essas línguas – basta, de novo, conversar com uma criança de sete anos que fala aquelas línguas. Essa ausência de emprego de o(s)/a(s) na fala espontânea brasileira é um dos muitos fenômenos que distinguem nossa língua das outras da família românica (e que nos aproxima, por idas e vindas na história das línguas, do latim clássico – que não tinha nenhum pronome de terceira pessoa).
Por que então aquele rapaz usou as em “não as pertence” em vez de “não lhes pertence”? E por que o jornalista disse “os reserva” e não “lhes reserva”? Porque se o(s)/a(s) não pertencem a nossa língua materna, a ela pertence menos ainda o pronome plural lhes. Você pode gravar 123 horas de fala espontânea de pessoas dialogando e não vai aparecer nem um lhes pra fazer chá. Aliás, pode gravar também outras centenas de horas de programas jornalísticos: é baixíssima a probabilidade de ocorrência de lhes na fala de apresentadoræs e pessoas entrevistadas. O lhes plural entra na lista das coisas descritas nas gramáticas que ninguém no Brasil usa espontaneamente como, por exemplo, o imperativo negativo do tipo “não digas”, “não comas”, “não te preocupes”.
O singular lhe, sim, é empregado na fala, mas única e exclusivamente com referência a você, nunca a ele/ela. Além disso, pode ser objeto direto ou indireto: “eu lhe vi ontem na rua” (ob. direto), “eu lhe telefono mais tarde” (ob. indireto). O linguista brasileiro Antenor Nascentes (1886-1972), um dos mais perspicazes estudiosos do português brasileiro, já descrevia e aprovava, na década de 1953, esse uso de lhe como objeto direto, embora até hoje os defensores da “norma curta” (conforme o belo rótulo dado por Carlos Alberto Faraco) o condenem. Um dos exemplos dados por Nascentes é de ninguém menos do que Machado de Assis, numa de suas crônicas em A Semana: “Não lhe acusem de estrangeirismo”.
Quem usa lhe (e esse uso é característico de algumas variedades linguísticas, não do português brasileiro geral) nunca está pensando em a ele, para ela etc. Não faltam exemplos de lhe objeto direto em textos escritos formais ou mais monitorados. Na fala, o que empregamos é uma locução (expressão composta de mais de uma palavra): onde o previsto pela norma é “Ontem encontrei o Pedro e lhe pedi notícias da saúde da mãe”, o que diríamos é “Ontem encontrei o Pedro e pedi [a][para] ele notícias da saúde da mãe”. Aliás, o uso de locuções no lugar dos pronomes oblíquos é frequentíssimo em português brasileiro: em vez de dizermos “ele me trouxe um presente”, dizemos mais normalmente “ele trouxe um presente pra mim”. Nas demais línguas românicas o uso dessas locuções é muito mais raro. Em francês e italiano uma fala como “ele correu atrás de mim” seria expressa como “ele me correu atrás”.
Na frase “uma guerra que não as pertence”, verificamos que o lhes é tão inusual que seu lugar acaba sendo ocupado por outra forma também inusual, porém mais familiar para as pessoas letradas: as.
O caráter de “corpo estranho” de lhe/lhes é acompanhado pela transformação sistemática que fazemos de verbos transitivos indiretos (que “pedem” uma preposição) em transitivos diretos. Isso é muito comum principalmente com verbos bitransitivos, aqueles que “pedem” dois objetos, como se passa com dar: “Dei um presente para Luísa”, em que “um presente” é objeto direto e “Luísa”, objeto indireto. O que fazemos com os verbos bitransitivos é omitir o objeto direto e enunciar só o indireto, que se torna direto. Assim:
— Você já pagou {o salário} ao porteiro? → — Você já pagou o porteiro
— Gostaria de agradecer a você {sua participação no evento} → — Gostaria de agradecer você / — Gostaria de agradecê-lo.
O presidente cobrou {explicações} ao ministro → O presidente cobrou o ministro.
O uso de lhe com o verbo permitir parece caminhar para o museu da história da língua. A construção prevista pela norma é: X permite a Y Z → “A nova ponte permitirá aos moradores da cidade economizar tempo na travessia do rio”. O objeto direto de permitir é “economizar tempo na travessia” e o indireto, “aos moradores da cidade”. Se os moradores já tiverem sido mencionados antes, seria possível então escrever: “A nova ponte lhes permitirá economizar tempo na travessia”. Mas o que tenho encontrado é: “A nova ponte os permitirá economizar tempo na travessia”.
O mesmo se passa com bastar e faltar. É pouco provável que encontremos coisas do tipo: “Bastou ao governo propor um aumento no imposto do IOF para a extrema-direita mostrar de novo que é lambe-botas dos super-ricos”. Aqui também deveríamos ter: “Bastou-lhe propor um aumento...”. Mas o que encontramos é: “Bastou o governo propor um aumento...”. E faltar vai na mesma linha: “Só falta a você assinar o contrato” → “Só lhe falta assinar o contrato”, mas o que falamos e ouvimos é: “Só falta você assinar o contrato”.
Também transformamos em transitivos diretos verbos que “pedem” apenas um objeto indireto:
· O resultado da votação do projeto de lei não agradou ao senador → O resultado da votação do projeto de lei não agradou o senador.
O português brasileiro é uma língua bastante peculiar dentro do conjunto das línguas românicas. Nossa gramática apresenta diversas características que distanciam nossa língua das outras da família, a começar pelo português europeu. Algo tão natural quanto “meu telefone acabou a bateria”, “o carro furou o pneu”, “esse xampu cresce o cabelo” causam curto-circuito na cabeça de quem está habituado com o funcionamento das outras línguas românicas. Nosso desprezo pela preposição a e nosso apego a para também é exclusividade nossa. Deixar vazios os lugares onde deveria estar algum pronome o/a também é especialidade da casa: “Esse livro é muito bom, quem me indicou ø foi o Pedro, quando eu terminar ø eu te empresto ø porque acho que você também devia ler ø”. Nas outras línguas, todas essas lacunas estariam devidamente preenchidas. Outro lugar que deixamos vazio é o do pronome se “indeterminado”: “Pode estacionar aqui?” / “Aqui faz fotocópia?” / “Não sei que língua fala no Suriname”... Em compensação, usamos se onde, supostamente, bastaria o infinitivo: “Um lugar bom para se morar” / “Não dá para se levar a sério o que ele diz” / “É preciso se ter uma noção clara do que está acontecendo” etc.
Faz pelo menos cinquenta anos que as pessoas engajadas na descrição do português brasileiro vêm descrevendo o funcionamento da nossa gramática e oferecendo sistematizações importantes. Um dos resultados desses esforços é a monumental Gramática do português culto falado no Brasil, com sete volumes em que colaboraram dezenas de pesquisadoræs de diferentes filiações teóricas e diferentes centros de estudo. Um aspecto importante no uso do adjetivo culto nesse título está na recusa da ideia de que as pessoas menos letradas é que falam “errado”, e que as pessoas que vivem em zona urbana e têm escolaridade alta falam “certo”. Nada disso: a fala das pessoas classificadas como “cultas” está muito distante do que prevê a norma-padrão convencional. Isso tem estimulado a produção de obras explicitamente concebidas com vistas a propor uma nova norma de referência para o português brasileiro escrito – porque normas só devem valer para a escrita, e para a escrita monitorada, porque querer regular a fala espontânea não faz sentido, além de ser impossível, tanto quanto a escrita informal, por exemplo, das redes sociais. A mais recente proposta nessa direção é a Gramática do português brasileiro escrito, de Carlos Alberto Faraco e Francisco Eduardo Vieira.
Outra coisa que precisa ficar muito bem clara: cabe à educação linguística ensinar o uso dos pronomes o(s)/a(s), lhe(s), apresentar o imperativo negativo do tipo não faças (mas sem querer impô-lo como a única forma “correta”), as regências verbais e nominais previstas pela norma-padrão convencional junto com as regências inovadoras já bem estabelecidas, enfim, tudo aquilo que não faz parte do repertório linguístico de quem frequenta a escola. A escola é o lugar para a gente aprender o que não sabe – quem acusa as e os linguistas de promover o “vale-tudo” no ensino da língua é movido por má-fé, e hoje em dia, infelizmente, no Brasil e no resto do mundo, a má-fé ganha cada vez mais poder, junto com a mentira deslavada e o ódio como forma de vida.
Publicado em 22 de agosto de 2025
Marcos Bagno é um professor, doutor em filologia, linguista e escritor brasileiro. Importante intelectual e professor da Universidade de Brasília com inúmeras publicações sobre a língua falada no paí. Publicou, entre outras obras, Gramática pedagógica do português brasileiro (Parábola Editorial, 2012), Preconceito Linguístico (Parábola Editorial, 2013), Uma história da Linguística, volumes 1 e 2 (Parábola, 2023). É o tradutor de alguns dos textos fundadores da sociolinguística: Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística, de U. Weinreich, W. Labov e M. Herzog (Parábola, 2006), e Padrões sociolinguísticos, de W. Labov (Parábola, 2008) e Curso de Linguística Geral (Parábola Editorial, 2021).
Explore nossos livros!
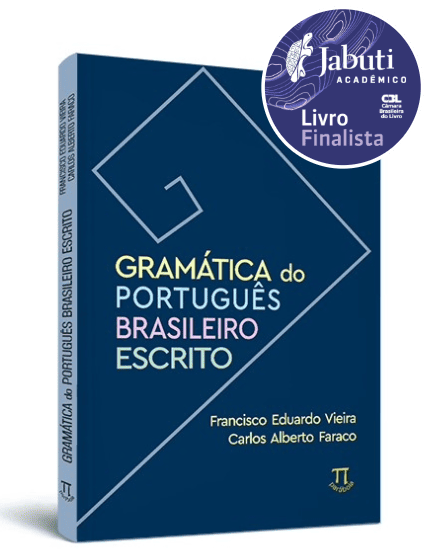
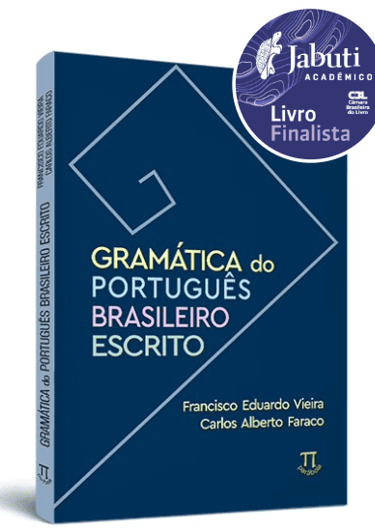
Quer entender mais sobre a gramática do português brasileiro?