Herdeiras que somos da assim chamada cultura ocidental (que é, no fundo, a cultura branca europeia de matriz judaico-cristã, forjada essencialmente por homens), temos sido habituadas a acreditar que existem entidades bem delimitadas designadas como línguas, coisas quase concretas, ou mesmo seres com vida própria (ideia cristalizada em frases como “a língua é um organismo vivo” ou em conceitos como “língua morta”). Por isso é tão difícil convencer a maioria das pessoas de que essa noção de língua nada tem de “natural”, porque é um produto intrinsecamente sociocultural e sociopolítico.
Na mesma visão de mundo de matriz europeia, o nome das línguas é sempre a substantivação de um adjetivo vinculado a um território, que pode ser o de um Estado soberano, independente (português, alemão, russo, estoniano, húngaro...) — o que confere à língua um status privilegiado, oficial —, ou ao de uma região dentro de um desses Estados (mirandês, galego, bretão, napolitano, lusácio...) — o que deixa as pessoas que as falam sempre em desvantagem sociopolítica, caso não dominem também a língua oficial. Só me ocorre um caso europeu em que não há esse vínculo território-língua: é o do romanche, falado (por bem pouca gente) na Suíça (numa região chamada Grisões), nome que deriva do latim romanice, isto é, “[falar] à moda de Roma”. Do outro lado da fronteira, no norte da Itália, fala-se o ladino (termo derivado de latino), aparentada ao romanche. Curiosamente, o romanche é a única língua propriamente “suíça”, já que as outras oficializadas no país têm nomes “estrangeiros”: francês, alemão e italiano.
No entanto, do ponto de vista histórico, esse vínculo entre língua e Estado — que, por causa daquele hábito cultural impregnado, nos parece evidente e com uma origem perdida nas brumas do tempo — é um construto sociopolítico relativamente recente, mal tem quinhentos anos. Se recuarmos até o século 5 da Era Comum, chegamos à época do desmantelamento do Império Romano do Ocidente, com a penetração de ondas migratórias de populações vindas de fora dos limites do império (as chamadas “invasões bárbaras”, como se as “conquistas” feitas pelos romanos para a constituição de seu império não tivessem sido também invasões!). A unidade imperial foi substituída por diversos reinos menores, cujas classes dirigentes provinham daquelas populações: godos, suevos, alamânicos, vândalos, francos etc. Com o passar do tempo, essas classes dirigentes adotaram a variedade de latim falada em suas terras, assim como adotaram o cristianismo. Onde o latim nunca tinha sido imposto, as populações dos reinos que se formaram mantiveram suas línguas próprias (caso da Alemanha, da Grã-Bretanha, da Hungria etc.), mas, por também terem adotado o cristianismo, o latim, língua oficial da igreja, se tornou ali a língua de cultura da elite, da justiça e do governo, tanto quanto nas antigas terras imperiais. E assim se passaram mil anos, um longo período que recebe o nome de Idade Média.
Na primeira fase da Idade Média, os reis atuavam como “administradores” de terras, os feudos, bem mais do que como governantes detentores de todo o poder — ao contrário, alguns senhores feudais eram mesmo mais ricos e poderosos que os reis. Naquele período, nem passava pela cabeça das pessoas a ideia de dar nomes a seus modos de falar. Somente o latim recebia o título de língua, e seu conhecimento estava restrito aos homens da igreja e a um punhado de letrados, numa época em que havia até reis analfabetos. As pessoas comuns, especialmente nas áreas onde o latim vinha passando por mudanças graduais, reconheciam uma origem compartilhada em seus modos de falar e praticavam espontaneamente o que chamamos de intercompreensão, ou seja, não viam (nem criavam) dificuldades em se fazer compreender e em compreender as outras, já que não existia o obstáculo simbólico das fronteiras estatais nem, muito menos, das línguas institucionalizadas. As variedades românicas constituíam um continuum dialetal, em que não se podia definir com precisão onde uma terminava e começava outra. Além disso, como a mobilidade da maioria era muito reduzida, as comunicações orais se faziam bem mais entre terras e aldeias próximas, cujas falas eram bastante semelhantes. Em contraposição ao latim, única língua digna do nome, essa pluralidade de falas recebeu mais adiante o nome genérico de romances (o que comprova a consciência que se tinha de serem continuações do latim) ou vulgares (isto é, “do povo”). Em Portugal, a língua da população era chamada linguagem ou nossa linguagem. A variação era considerada absolutamente normal, ao contrário de hoje, em que a variação é vista como “erro”, e a norma (artificialmente estabelecida), vista como a única forma “certa” de uso da língua.
O tempo foi passando e a situação política, econômica, social da Europa foi se transformando até começar a chamada Era Moderna. Foi sobretudo a partir do século 15, com a decadência do sistema feudal e o início do mercantilismo, que começou a se fortalecer o vínculo entre língua e território, território unificado e centralizado em torno da figura do rei (ou, em alguns poucos casos, da rainha), agora, sim, detentor do poder político. A tomada de Constantinopla pelos turcos (1453) e o consequente bloqueio das rotas que permitiam as trocas comerciais entre a Europa e o Oriente simbolizam o início da chamada era dos “descobrimentos” (mais um eufemismo para designar invasões, pilhagens, escravização e genocídios), quando Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda, a pretexto de encontrar o chamado “caminho para as Índias”, acabaram se apoderando de imensas extensões de terras mundo afora, iniciando o longuíssimo período colonial moderno — a primeira “conquista” de Portugal foi a cidade de Ceuta, no atual Marrocos, em 1415, enquanto a independência das colônias africanas e de Timor se deu em 1975, ou seja, 560 anos entre uma data e outra, com o “achamento” e a independência do Brasil de entremeio.

















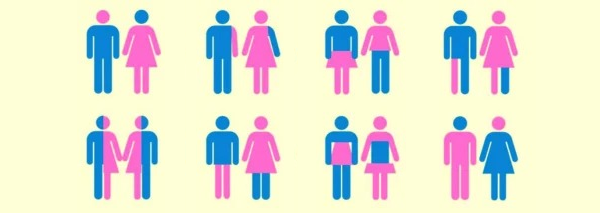


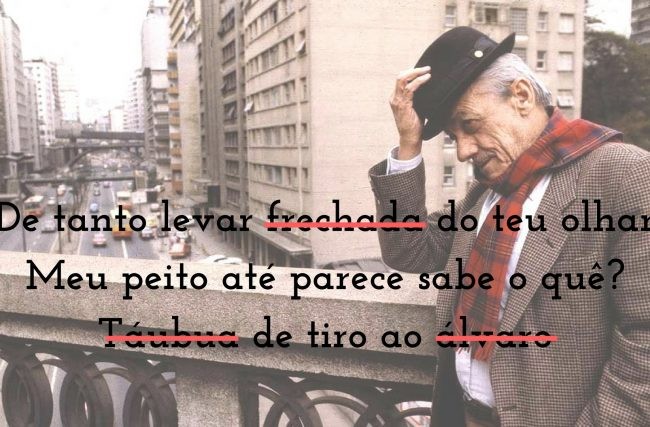

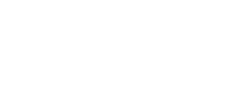


 Tweets by @271933053
Tweets by @271933053


