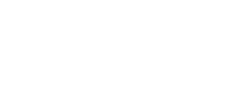
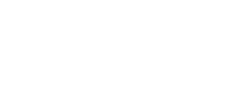
Excertos de Cameron, Deborah (1997), “Demythologizing Sociolinguistics”. In: Coupland N., Jaworski A. (eds.). Sociolinguistics. Modern Linguistics Series. Palgrave, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25582-5_8. Tradução e adaptação: Marcos Bagno.
Nos últimos vinte anos, a questão do “sexismo na língua” tem sido um tema ardentemente debatido dentro e fora dos círculos linguísticos profissionais. O que está em causa são os modos como certos subsistemas linguísticos (títulos convencionais e formas de tratamento, partes do léxico e até da gramática, por exemplo) representam o gênero. As feministas têm apontado que a tendência dessas representações é a de reforçar divisões e desigualdades sexuais. Fatos notórios da língua inglesa são, por exemplo, a marcação morfológica de vários nomes de agentes referentes às mulheres (actress [“atriz”], usherette [“lanterninha {do cinema}); a existência de mais termos sexualmente pejorativos para as mulheres do que para os homens; o uso não-recíproco de termos afetivo-depreciativos dos homens para as mulheres; e, ainda mais notório, o uso genérico de pronomes masculinos.
Não deve nos surpreender que fenômenos como esses sejam amplamente entendidos como um exemplo de “língua refletindo sociedade”. A “sociedade” sustenta determinadas crenças sobre homens e mulheres e seus status relativos; a língua “evoluiu” para refletir tais crenças. As feministas vêm tentando argumentar que tem mais coisa acontecendo do que um reflexo passivo: a prática linguística sexista é uma instância do sexismo em si mesma e reproduz ativamente crenças específicas. Mas os sociolinguistas não-feministas têm falhado notavelmente em compreender a questão delas.
Isso fica particularmente evidente em discussões sobre mudanças recentes no uso do inglês — mudanças que ocorreram sob pressão das campanhas feministas contra o sexismo na língua. Por algum tempo, a opinião de muitos/muitas linguistas era a de que reformar a língua sexista era um objetivo desnecessário, trivial, uma perda de tempo, já que a língua simplesmente reflete as condições sociais. Se as feministas se concentrassem em remover desigualdades sexuais mais fundamentais, a língua mudaria por conta própria, refletindo automaticamente a nova realidade não-sexista. (Isso, aliás, sugere uma visão de língua que supostamente deveria estar obsoleta no pensamento do século 21, e que podemos rotular de “falácia orgânica”: a de que a língua é como um organismo, com vida própria, e evolui para satisfazer as necessidades de seus/suas falantes. Permanece um mistério o modo exato como a língua faz isso.)
Mais recentemente, porém, ficou óbvio que a reforma linguística tal como proposta pelas feministas tem obtido algum sucesso. Por exemplo, está claro que os pronomes masculinos genéricos não são mais usados uniformemente por falantes e escreventes cultos/cultas; até mesmo fontes respeitadas como Quirk et al. (1985) reconhecem a existência de alternativas como o they singular e a fórmula he or she. Como os/as sociolinguistas tratam esta mudança no uso pronominal do inglês? Espantosamente, eles/elas nos dizem que isso ocorreu “naturalmente”, como um reflexo do fato da posição social das mulheres ter se alterado radicalmente nas duas últimas décadas.
Vale a pena apontar em pormenor o que está errado com esse tipo de alegação. Uma falha imediata no argumento é que ele é patentemente falso: sem campanhas e debates específicos sobre o sexismo na língua, o uso linguístico não teria se alterado ainda que outras vitórias feministas (como salário igual e legislação não-discriminadora) tivessem ocorrido. Historicamente falando, existe sem dúvida uma conexão entre campanhas feministas por oportunidades iguais e por linguagem não-sexista, mas umas nunca acarretaram as outras, nem tampouco apenas refletiram as outras. Repetindo o ponto crucial mais uma vez: o uso da língua é uma prática social em si mesmo.
Também é preciso apontar que uma mudança na prática linguística não é apenas um reflexo de alguma mudança social mais fundamental: ela é, em si mesma, uma mudança social. Os/as antifeministas gostam de enfatizar que a eliminação dos pronomes genéricos masculinos não garante salário igual. De fato, não assegura — mas quem disse que garantiria? A eliminação dos pronomes genéricos masculinos elimina precisamente os pronomes genéricos masculinos. E, fazendo isso, ela muda o repertório de significados e escolhas sociais à disposição dos/das agentes sociais. Nas palavras de Trevor Pateman, isso “constitui uma reestruturação de ao menos um aspecto de uma relação social”.
Outro problema com o argumento “a língua reflete a sociedade” em relação às mudanças no uso do inglês é que ele torna a mudança linguística um processo misterioso, abstrato, aparentemente executado pela ação de ninguém (ou talvez pela própria língua — a falácia orgânica ataca novamente). Deixa-se de ver a luta prolongada que os indivíduos e os grupos têm travado tanto a favor como contra a linguagem não-sexista (e a luta continua). Ignora-se, por exemplo, a atividade de cada mulher que já lutou para colocar “Ms.” em seu talão de cheque, de cada editora, comitê universitário ou diretoria sindical que produziu novas diretrizes institucionais para a escrita de documentos, sem mencionar cada colunista polemizador/a na imprensa que enfrentou, denunciou ou deplorou a linguagem não-sexista.
O ponto geral aqui é que há ocasiões — esta é uma — em que podemos localizar os passos específicos e concretos que levam a uma mudança observável em algum comportamento linguístico das pessoas e no próprio sistema. Podemos descobrir quem deu esses passos e quem se opôs a eles. Podemos nos referir a um debate impresso sobre o assunto, examinar os argumentos levantados por ambos os lados (e é interessante que esses argumentos tendam a ser sobre língua em vez de sobre gênero: em vez de “as mulheres devem ser tratadas igualmente” o que se mobiliza é “o que significam as palavras e se está certo mudá-las”). O modelo “língua reflete sociedade” obscurece os mecanismos pelos quais a linguagem sexista se tornou menos aceitável, descartando toda ideia de intervenção na mudança linguística. De modo igualmente crucial, o modelo apaga a existência do conflito social e suas implicações para o uso da língua. Aqui como em toda parte na sociolinguística o postulado subjacente é de uma formação social consensual onde os/as falantes aquiescem às normas de seu grupo ou de sua cultura e concordam sobre as “necessidades” sociais que a língua existe para satisfazer.
É claro que seria errado alegar que toda mudança linguística é desse tipo — esforços organizados e politicamente motivados para alterar normas e convenções existentes. Mas algumas mudanças linguísticas são desse tipo, e a sociolinguística não deveria assumir um conceito de língua que as torna impossíveis de explicar.
A campanha contra o sexismo na linguagem é um exemplo de um tipo de prática metalinguística que podemos chamar de “higiene verbal” (outros exemplos poderiam ser os movimentos pelo Plain English [“inglês simples”] ou pelas línguas artificiais; sistemas que regulam o uso de obscenidades e insultos; e, é claro, o prescritivismo, a padronização e atividades associadas). Essas práticas são mencionadas, quando muito, de passagem no trabalho sociolinguístico: sem dúvida, acredita-se que elas não são capazes de fazer avançar a teoria linguística e, por conseguinte, devem ser deixadas para os sociólogos pesquisarem.
Entretanto, se os argumentos propostos acima tiverem alguma força, pode não ser tão fácil assim separar os interesses da teoria linguística dos da sociologia. Vimos que os/as sociolinguistas fazem um uso casual mas significativo de noções como “norma” e “identidade social”, a fim de explicar a variação e as atitudes que observam. E argumentei que um dos problemas com isso é que somos deixadas sem nenhuma explicação sobre “de onde vêm” as normas e como elas “entram” nos/nas falantes individuais — não basta simplesmente situá-los/las em alguma “sociedade” vaga e mal definida, como se a sociedade fosse homogênea, monolítica e transparente em seus mecanismos, e como se os/as usuários/usuárias individuais da língua fossem autômatos pré-programados. Uma investigação detalhada das atividades metalinguísticas dos/das usuários/usuárias da língua — por exemplo, formas de “higiene verbal” — pode nos dizer muita coisa sobre a produção de normas e sua apreensão pelos indivíduos.
Atividades e crenças metalinguísticas têm recebido, ao menos nas sociedades urbanas ocidentais, menos atenção do que merecem. Pois certamente um fato importantíssimo sobre linguagem nestas sociedades é que as pessoas sustentam crenças apaixonadas sobre a língua; que a língua suscita conflitos sociais e políticos; que práticas e movimentos crescem em torno dela contra e a favor do status quo. Podemos considerar o fato bem atestado de que muitas pessoas, incluindo as com instrução mínima, leem um dicionário por prazer; que existe um amplo mercado para gramáticas, guias de uso e publicações de interesse geral, programas de rádio e televisão sobre a língua inglesa; que muitos jornais e periódicos de grande circulação (como as Seleções do Reader’s Digest) têm uma coluna regular sobre questões linguísticas.
A maioria dos/das que pesquisam no paradigma quantitativo estão, é claro, bem conscientes desses fatos e, de modo mais geral, do agudo interesse das pessoas por minúcias linguísticas. Com algumas honrosas exceções, no entanto, tendem a tratar a opinião do/da leigo/leiga sobre o uso como manifestações de ignorância que devem ser descartadas, ou como excentricidades e preconceitos que devem ser desprezados. O axioma de que a linguística é “descritiva não prescritiva”, junto com o princípio metodológico de que um/a pesquisador/a deve influenciar os/as informantes o mínimo possível, impede os/as sociolinguistas de levar a sério a linguística popular. Cabe argumentar, no entanto, que práticas como ler dicionário e escrever cartas aos jornais sobre questões de uso são suficientemente interessantes para exigir análise: primeiro, é claro, elas exigem investigação.
E esta é a tarefa que eu atribuiria a uma sociolinguística desmitologizada: examinar as práticas linguísticas de que os membros de cultura regularmente participam ou a cujos efeitos estão expostos. Além de ser interessante em si mesmo, este empreendimento nos ajudaria a compreender o constrangimento do comportamento linguístico pelas relações sociais em que os/as falantes estão envolvidos/envolvidas e os recursos linguísticos a que têm acesso. Podemos também descobrir como a mudança linguística pode emergir através dos esforços de indivíduos e grupos para produzir novos recursos e novas relações sociais. Pois a língua não é um organismo nem um reflexo passivo, mas uma instituição social, profundamente implicada na cultura, na sociedade, nas relações políticas em todos os níveis. A sociolinguística precisa é de um conceito de língua em que este ponto seja colocado no centro e não nas margens.
Sobre a autora: Deborah Cameron (1958) é professora da Universidade de Oxford, pesquisadora em sociolinguística e antropologia linguística. É autora de Verbal Hygiene (1995), em que propõe o termo “higiene verbal” para todas as intervenções sociais conscientes nos usos da língua.
O persa (bem como o urdu) não tem marcação de gênero. Nenhuma classe gramatical possui marca de masculino/feminino ou neutro. O pronome de terceira pessoa, por exemplo, "u" serve para qualquer ser - inanimado ou não. Logo, podemos dizer que Irã, Tadjiquistão, Afeganistão não são países misóginos, nem transfóbicos etc?
 Tweets by @271933053
Tweets by @271933053
