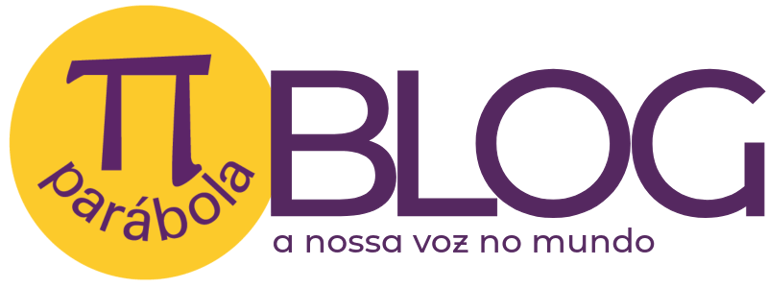Gênero gramatical na Lei
Oportunismo conservador, oportunidade para divulgar a ciência
Luiz Carlos Schwindt (UFRGS, CNPq)
Publicado em 23/11/2025
O presidente Lula sancionou recentemente a Lei nº 15.263, publicada no Diário Oficial da União em 17 de novembro de 2025, que “institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. O projeto dessa lei não é do governo. O Presidente não a propôs; apenas não a vetou integralmente, e as razões para isso, ainda que relevantes, escapam ao que desejo debater aqui.
Num exercício metonímico tendencioso, eu diria, o tema vem repercutindo em veículos de abrangência nacional e local sob manchetes do tipo “Lula sanciona lei que proíbe uso de linguagem neutra pelos governos” (CNN Brasil, em 18/11/2025, Instagram) ou “Lula proíbe linguagem neutra na administração pública em todo o país” (Alô Gravataí, 18/11/2025, Facebook). E somos nós, linguistas, instados de novo a falar sobre “linguagem neutra”, tema que pensamos vencido às vezes, mas que ressurge com surpreendente energia. As pessoas querem falar sobre isso, essa é a constatação.
O uso de marcadores responsáveis por neutralização gênero gramatical, tópico a que tenho me dedicado num dos braços de minha pesquisa na área de morfofonologia nos últimos quinze anos, ganha, neste episódio em particular, um elemento adicional e paradoxalmente nada simples: a demanda da propalada “linguagem simples”.
Antes de dizer o que penso sobre o problema linguístico-gramatical em questão e sua relação com alguma definição de linguagem simples, tenho o dever de contextualizar muito brevemente o cenário dessa lei, embasado em informações apresentadas por colegas que estiveram envolvidos em sua discussão representando a Associação Brasileira de Linguística. Apresentados às versões iniciais do projeto da lei em questão, os linguistas reagiram à falta de fundamento científico daquilo que se apresentava como um conjunto de regras arbitrárias, que determinava coisas como uso de sentenças em voz ativa, redação de frases curtas, proibição de emprego de substantivos abstratos, entre outras estranhezas quando se olha a partir do capital de reflexão sobre comunicação oral e escrita com que contamos na área. O grupo de linguistas reagiu com ciência, aprofundando o entendimento do que se poderia classificar como linguagem simples e colocando a ideia de democratização do conhecimento em primeiro plano. Esse debate se deu por lives, mesas-redondas, entrevistas e oportunizou a publicação de um livro de acesso aberto pela Editora da Abralin. Ainda assim, não se conseguiu frear o projeto pensado essencialmente por políticos de direita que, sujeito a restritos aprimoramentos, foi há pouco submetido a sanção pelo Presidente. E lá estava, como não podia deixar de estar, em seu artigo 5º, inciso XI, a delícia dos conservadores (e a armadilha perfeita para qualquer progressista sujeito a aprovação popular), a restrição ao uso de marcas inovadoras de gênero.
Contextualizado o fato, compartilho aqui, a convite da Parábola, minha opinião sobre o mérito da restrição envolvendo especificamente a questão de gênero. Opinião que, (des)necessário dizer, estabelecida em ciência, está sempre sujeita a falseamento.
Como afirmei, linguagem simples é um tópico complexo, mas, para nortear o argumento, vou me limitar a defini-la como estabelece a referida lei, em seu artigo 4º, “o conjunto de técnicas destinadas à transmissão clara e objetiva de informações, de modo que as palavras, a estrutura e o leiaute da mensagem permitam ao cidadão facilmente encontrar a informação, compreendê-la e usá-la”. Nessa perspectiva, e apenas nela (pensando que ponto de vista é a vista de um ponto), me parece que não recomendar o uso de marcas inovadoras de gênero, em especial daquelas que margeiam o sistema gramatical, é uma decisão acertada.
Essa opinião exige duas explicações adicionais, me parece.
Em primeiro lugar, quando falo em não recomendar, cabe um exercício de desambiguação: não quero dizer, como lamentavelmente determina o texto da lei, “recomendar que não se use”, mas apenas “não recomendar que se use”. Não se deve recomendar, eu penso, porque, ao sobrepor o fático ao referencial, a administração pública não ganha em termos de eficácia de comunicação adotando essas formas em correspondências oficiais destinadas à parcela mais ampla da população. E, se não ganha em comunicação, não ganha em inclusão. Isso não quer dizer que deva haver um movimento para reprimir esse emprego ou, como sugeria trecho do projeto felizmente vetado pelo Presidente, um servidor destinado a fiscalizar tais usos.
Em segundo lugar, quando, além disso, falo em “marcas inovadoras que margeiam o sistema gramatical”, estou particularmente me referindo à inclusão de novos fonemas, morfemas e pronomes na língua. Essa mudança pode ser percebida ao longo do tempo? Pode, é claro, mas nunca sem custo de processamento, porque, como estratégia de fixação, as línguas articulam esses elementos, que são parte de um inventário mais ou menos fechado, com novas raízes, entidades de um inventário aberto. Minha tese, então, é a de que incluir, por exemplo, pronomes como elu/delu, ile/dile e plurais neutros inovadores, como professories, representaria maior custo para a leitura e compreensão de textos predominantemente referenciais, característicos de publicações oficiais. E isso não sou eu quem diz com maior propriedade. Há estudos relevantes relacionando complexidade morfológica a maior custo de processamento que licenciam minha hipótese. Por outro lado, ao menos intuitivamente, não enxergo o mesmo complicador no que diz respeito a se priorizarem termos inclusivos nesse tipo de comunicação, como estudantes em lugar de alunos, humanidade em lugar de homens e por aí afora. Tampouco parece ser um problema o uso marcado de feminino em substantivos comuns de dois gêneros, como se faz em bacharela ou presidenta. Talvez mesmo todes ou prezades em vocativos interfiram pouco ou nada na veiculação simples, por assim dizer, das mensagens contidas nesses textos oficiais.
Por fim, assumido o que penso, quero dizer ainda umas poucas palavras sobre popularização da ciência, que vejo como propícias neste contexto, e que têm a ver com a metonímia a que me referi lá em cima. O mundo se movimenta aceleradamente no que diz respeito ao acesso à informação, mas não de um jeito trivial. As pessoas alcançam muito em pouco tempo, embora, na maioria das vezes, assimilem apenas a borda de tudo. Se queremos furar a bolha e levar linguística a quem não pediu por ela, precisamos de pelo menos duas coisas, penso eu. Primeiro, autoestima boa para acreditar que só não se interessam pela área porque ainda não a conhecem; segundo, algum entusiasmo para se submeter ao difícil exercício de levar para a borda a parte complexa dos problemas. E isso tudo aceitando correr o risco da incompreensão. Uma parte da população acha, nos últimos dias, que Lula criou uma lei contra gênero neutro. O que fazemos com isso? Vencido o cansaço da desinformação, do lugar que ocupo eu diria: ensinamos um pouco de morfofonologia a essas pessoas ao tempo que desfazemos o desentendido.
Referências
Barbosa Filho, Fábio; Othero, Gabriel. (org.). 2022. Linguagem 'neutra'. Língua e gênero em debate. São Paulo: Parábola.
Freitag, Raquel. 2024. Não existe linguagem neutra! Gênero na sociedade e na gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto.
Schwindt, Luiz Carlos. 2020. Sobre gênero neutro em português brasileiro e os limites do sistema linguístico. Revista da Abralin, v. 19, n. 1, p. 1-20. Disponível em https://revista.abralin.org/index.php/abralin/article/view/1709.
Silva, Adelaide; Lagares, Xoán Carlos.; Maia, Marcus. (org.). 2024. Linguagem simples para quem? A comunicação cidadã em debate. Campinas: Editora da Abralin. Disponível em https://editora.abralin.org/publicacoes/linguagem-simples-para-quem.